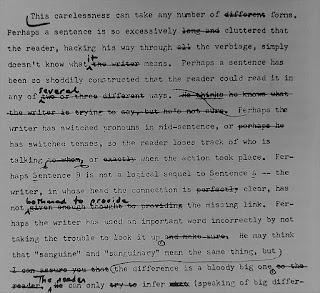O mal da hipocrisia não está no fato de ser visível aos
outros,
mas no de ser invisível a quem a pratica.
Michael Shermer (2002)
Em A hora do lobo (1968), o cineasta sueco
Ingmar Bergman (1918-2007) conta a história do pintor Johan, homem atormentado
por aparições fantasmagóricas e angústias profundas que lhe assombram (e à sua mulher
grávida, Alma) entre a meia-noite e a aurora. Paulatinamente, durante as madrugadas
delirantes na ilha isolada para a qual o casal se retira, Johan vai perdendo
contato com a realidade externa e passa a duvidar de sua própria lucidez. É
nessa hora do lobo que os questionamentos mais fundamentais emergem em nossa
mente envolta nas brumas do homem dos sonhos, quando acordamos por vezes
assustados, ainda imaginando estarmos em um mundo de pesadelo: Por que as
pessoas acreditam em ideias estapafúrdias? O que nos leva a perder
completamente o senso crítico e aceitar tolices flagrantes que chegam sem
filtros aos nossos ouvidos? Como pessoas alfabetizadas são capazes de defender
a existência de conspirações globais controladas por professores universitários,
partidos políticos, megainvestidores e criminosos sexuais, que desejam
transformar o mundo em uma utopia coletivista de autômatos bestializados
adoradores do demônio? Qual a motivação para alguns considerarem plausível que
uma entidade sobrenatural inescrutável molde nossa realidade nos seus mais
ínfimos detalhes, e que o simples fato de chamarem essa ideia de “científica”
seja suficiente para legitimá-la, mesmo contrariando centenas de anos de
evidências empíricas organizadas e estudadas por um sem número de pessoas
inteligentes?
Muitas
vezes, nessa hora do lobo, a pseudo-teoria do Design Inteligente dança em
frente aos meus olhos cheios de areia. E me lembro das inúmeras vezes em que
fui questionado se acredito na possibilidade de um designer inteligente. Sempre respondo que sim a esse questionamento,
afinal, minha esposa é designer E inteligente…
O Design Inteligente foi uma tentativa, até agora frustrada, de
grupos religiosos inserirem o "criacionismo científico" no ensino de
ciências dos EUA. O movimento foi criado pelo advogado norte-americano Phillip
E. Johnson (1940– ) no final dos anos 1980. Professor de direito em Berkeley e
aparentemente sem formação científica (além de não aceitar a teoria da
evolução, ele também nega que o vírus HIV seja o causador da AIDS e defende que
os fenômenos observáveis podem ser explicados por causas não-naturais), Johnson
construiu seu discurso pseudocientífico a partir de uma pilha de contradições
que não se fundamentava em evidências. No entanto, ainda que todos os seus
frágeis argumentos tenham sido desconstruídos sem muito esforço nas últimas
décadas, o Design Inteligente continua muito utilizado na retórica de políticos
e líderes religiosos como alternativa à teoria evolutiva; pode-se mesmo dizer
que os defensores do criacionismo científico são uma parte importante da
comissão de frente dos movimentos contemporâneos contra a ciência e o
pensamento acadêmico, que têm, entre suas hordas, grupos tão díspares quanto
terraplanistas, paranoicos anti-vacinação, membros do alto escalão do governo
em repúblicas ocidentais e “filósofos” best-sellers.
Após a publicação da sua obra máxima A origem das espécies por meio de seleção natural: ou a preservação das
raças favorecidas na luta pela vida, em 1859, o naturalista britânico
Charles Darwin (1809-1882) e seus contemporâneos iniciaram uma das maiores
revoluções científicas de todos os tempos, encabeçando um questionamento
radical do conceito que o homem fazia de si mesmo e da sua posição no mundo
natural. Mesmo hoje, mais de um século e meio após a primeira edição do Origem ter se esgotado rapidamente nas
livrarias britânicas, as controvérsias ainda ressoam. No entanto, nas ciências
naturais, há pouquíssimas vozes discordantes da realidade da evolução (quando
existem, são apenas manifestações carregadas de entrelinhas e segundas
intenções).
Evolução é um fato. O mundo natural é produto contínuo de
mudanças, sejam elas graduais ou aceleradas, que vêm acontecendo desde a origem
da vida na Terra há cerca de quatro bilhões de anos. Essa variação orgânica não
tem um direcionamento prévio – não existe uma planta baixa, um blueprint ou um projeto que define como
evoluem as características morfológicas, genéticas ou comportamentais dos seres
vivos. Nesse sentido, não existe perfeição na evolução: adaptação diz respeito
somente aquilo que funciona em um dado momento e em um dado contexto ambiental. Os
mecanismos evolutivos prescindem de um objetivo final. São completamente desnecessários um designer, um demiurgo ou
quaisquer figuras divinas influenciando a origem e diversificação da vida no
planeta.
Com o Origem de
Darwin e a delimitação de uma área das ciências naturais chamada Biologia
Evolutiva, verificou-se uma série de implicações muito claras, não apenas
científicas mas também filosóficas, metafísicas e religiosas. O livro de Darwin
e seus comentários e refinamentos subsequentes colocaram fim a uma visão de
mundo calcada explicitamente no fixismo criacionista, segundo a qual uma
entidade supranatural teria concebido toda a diversidade biológica existente,
substituindo-a por uma natureza dinâmica, plena de variações por toda a sua
história. O mecanismo discutido por Darwin, a seleção natural, extinguiu o
papel dado no passado às
forças sobrenaturais intangíveis na estruturação do mundo vivo.
A seleção natural é capaz de explicar a existência da enorme
variedade de formas de vida no nosso planeta através de um processo
materialista baseado na interação entre variação pré-existente e sucesso
reprodutivo; desde meados do século vinte, sabemos que a variabilidade é
causada principalmente por mutações genéticas e recombinações cromossômicas que
acontecem nas células reprodutivas (tais como óvulos e espermatozoides). Com
isso, os deuses tornaram-se tão obsoletos quanto os papiros, a máquina de
escrever ou a fita cassete... Como corolário à ideia de que todos os organismos
derivam de ancestrais comuns por um processo contínuo de ramificação – dessa
forma, a ancestralidade comum conecta todos os seres vivos em uma gigantesca
árvore genealógica com bilhões de ramos, considerando-se todas as espécies
recentes e também as extintas –, completou-se a revolução iniciada com o
astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico (1473-1543), retirando as
poucas justificativas ainda existentes para a ideia de que o ser humano tem uma
posição de centralidade em relação a todo o cosmos. O Homo sapiens, após Darwin, não é mais do que um galhinho na imensa
árvore da vida.
Obviamente, o materialismo evolutivo não é contrário aos deuses,
simplesmente porque estes não são objetos de estudos científicos e, portanto,
não podem ser interpretados à luz do raciocínio lógico preconizado pela teoria
da evolução. Parafraseando a lendária – e provavelmente apócrifa – resposta do
astrônomo Pierre-Simon Laplace (1749-1827), deus é uma hipótese irrelevante
para a biologia, assim como é irrelevante também para as demais ciências
naturais. O paleontólogo norte-americano Niles Eldredge (1943– ), em seu
livro O triunfo da evolução e a
falência do criacionismo (publicado no Brasil em 2010), sintetiza de
forma brilhante a nossa impossibilidade de experimentar diretamente, através
dos nossos sentidos, o sobrenatural divino. Para ele, “(...) no empreendimento
chamado ciência, não há afirmação ontológica de que não exista um Deus (...),
mas sim um reconhecimento epistemológico de que, mesmo se esse Deus realmente
existisse, não haveria como experimentá-lo, apesar dos meios impressionantes,
embora ainda limitados, que estão à disposição da ciência”.
O Design Inteligente é um conjunto de afirmações sem sentido que
tenta, a todo custo, mudar esse quadro. Eles postulam algo chamado
“criacionismo científico”, uma contradição absoluta. Essa pseudociência, tão
válida quanto a ufologia, a astrologia e a saúde
quântica, baseia-se na premissa de que existe
certo nível de complexidade irredutível nos sistemas biológicos, que os
impediria de terem se originado por etapas através de um mecanismo lento e
gradual como o da seleção natural. Já que a
evolução gradualista não seria possível, nas palavras dos proponentes e
defensores do movimento, a vida no planeta seria, portanto, obra de um designer
ou projetista que tivesse pensado, a
priori, no encaixe perfeito entre todos os componentes constituintes dos
sistemas orgânicos. É a retomada da Teologia Natural, anterior à Darwin,
segundo a qual as relações entre as partes constituintes dos seres vivos e
entre estes e o ambiente no qual habitam seriam evidência irrefutável de um
deus interventor responsável por toda a criação.
Para o bioquímico norte-americano Michael Behe (1952– ), da
Universidade de Lehigh, autor do famigerado (e cientificamente questionável) A caixa preta de Darwin, o funcionamento
de uma estrutura como o flagelo de uma bactéria, apêndice móvel em forma de
chicote responsável pela movimentação dos microrganismos, estaria tão finamente
relacionado a diferentes microestruturas e processos bioquímicos que só poderia ter sido fruto de um planejamento prévio feito
por alguém (ou algo) de inteligência inescrutável. O conceito da
complexidade irredutível de Behe revela nada mais do
que a formação acadêmica enviesada do seu autor, ao menos na área da
Biologia Evolutiva. A literatura especializada traz
muitos exemplos de precursores do flagelo que de fato têm “partes faltantes”,
quando comparados ao sistema irredutível apresentado
por Behe, e, ainda assim, plenamente funcionais.
Behe fala de outras estruturas, como o olho, também inexplicáveis
para ele dentro de uma perspectiva evolutiva gradualista, como a de Darwin e de
muitos outros cientistas. No seu entendimento torto da natureza, olhos e
estruturas fotorreceptoras não poderiam ter surgido “por partes” ou
“incompletas”, uma vez que seriam sistemas irredutivelmente complexos – se
retirássemos quaisquer dos seus componentes, todo o sistema colapsaria e
perderia sua funcionalidade. Bobagem! Existem olhos muito menos intrincados,
diferentes dos nossos, que funcionam e garantem a sobrevivência dos seus
portadores (basta nos lembrarmos de planárias e seus ocelos estrábicos). No
mais, existem espécies com acuidade visual maior que a do Homo
sapiens, o que refuta a hipótese de que nossas estruturas orgânicas são o
ápice da evolução.
A questão do surgimento dos olhos nos animais é interessante. O
gene Pax6 (referido
como Eyeless em moscas, Aniridia em humanos e Small eyes em camundongos) está
presente em todas as espécies portadoras de olhos ou ocelos, não apenas nos
mamíferos mais modificados, como os primatas, grupo no qual nossa espécie se
insere. Esse gene é capaz de induzir a formação de estruturas fotorreceptoras e
exerce funções diferentes quando expresso em outros tecidos. Assim, vertebrados
e insetos compartilham o mesmo gene fundamental e pelo menos parte das
sequências de desenvolvimento que levam à expressão dos olhos, o que indica um
alto grau de conservação evolutiva, e é também evidência inequívoca de
parentesco evolutivo entre todos os animais.
Estima-se que o início da diversificação de genes como o Pax6 nos animais deu-se no período
Cambriano, há cerca de 520 milhões de anos. Muitos dos sistemas gênicos que
surgiram nesse período são, ainda hoje, compartilhados por diferentes grupos (águas vivas, baleias, insetos,
minhocas, hominídeos...). Esses e outros exemplos podem ser encontrados em
livros de ampla divulgação como o Infinitas
formas de grande beleza (de 2006), do biólogo norte-americano Sean Carroll
(1960– ) e O maior espetáculo da
Terra (de 2009), publicado pelo evolucionista britânico Richard Dawkins
(1941– ), ou ainda em inúmeros podcasts, postagens de blogs, vídeos e artigos na internet. Aqui, e em qualquer
outro tópico relacionado à Biologia Evolutiva, não há necessidade alguma de apelar para
explicações sobrenaturais ou pseudocientíficas como fazem os defensores do
Design Inteligente.
Não existem sistemas de complexidade irredutível porque os
atributos biológicos que surgem e se disseminam são locais, baseadas na relação
entre os portadores desses atributos e o ambiente em que se encontram. Algo que
garanta altas taxas de sobrevivência e reprodução em um período, se modificadas
as condições do entorno e as pressões seletivas, pode se tornar um entrave à
perpetuação dos descendentes tempos depois. O Design Inteligente parte da
premissa equivocada de que tudo o que existe no mundo natural é perfeitamente
ajustado. No entanto, como dito anteriormente, evolução não diz respeito à perfeição, e sim ao que
funciona.
Alguém poderia manifestar que os “teóricos” do Design Inteligente,
assim como os “teóricos” dos alienígenas do passado (ou do Antigo Astronauta)[i], têm todo o direito de se
expressar. Isso é óbvio. O que é temerário não é a existência de panfletos
defendendo a realidade de um projetista que tenha conscientemente criado todas
as formas de vida do universo, ou a realização de congressos de “pesquisadores”
e entusiastas sobre o tema. Qualquer forma de conhecimento, seja ela convergente
ou dissonante das nossas premissas científicas ou crenças, deve circular
livremente; o fomento ao debate de ideias é condição essencial para o
refinamento do intelecto e a manutenção de sociedades democráticas e menos
desiguais. O que não se pode é misturar maçãs e laranjas: o Design Inteligente NÃO é ciência e,
portanto, NÃO deve ser ensinado como tal. Ele não é uma explicação
alternativa à teoria evolutiva. O Design Inteligente é retórica criacionista,
uma forma de introduzir o literalismo bíblico nas aulas de ciências, que
deveriam ter por objetivo permitir aos estudantes discutir e examinar
evidências científicas utilizadas para compreender a natureza, e não tratá-la
simplesmente como o resultado de um evento único e deliberado de criação
perpetrado por um agente externo à própria natureza e que teria relatado todo o seu
trabalho em um livro confuso, contraditório, e cheio de circunvoluções
literárias.
Quem entraria em uma padaria para encher o tanque do seu carro ou procuraria na loja de materiais
de construção por um maço de alfaces? É muito simples: se não é ciência, não
deve ser ensinado ou discutido como ciência. Não existem artigos sobre Design
Inteligente publicados em periódicos científicos confiáveis – é de se esperar
que revistas bem qualificadas tenham um sistema de revisão por pares, ou peer-review, no qual os trabalhos
submetidos são avaliados por pesquisadores especializados, que emitem pareceres
favoráveis ou não à publicação. Não há experimentos ou observações capazes de
testar as premissas dessa pseudociência[ii].
Se alguém imagina que os relatos criacionistas judaico-cristãos
devam ser ensinados durante as aulas de ciências, que defenda também o ensino
dos mitos de criação indígenas, das mirabolâncias fantásticas da Cientologia e
dos ditames do Pastafarianismo, além de todas as mais de 6.000 crenças
religiosas existentes no planeta. Foi mais ou menos esse o argumento levantado
pelo físico norte-americano Bobby Henderson (1980– ) em 2005. Ele era um
estudante da Oregon State University, nos EUA, e mandou uma carta aberta ao
conselho de educação do estado do Oregon, que discutia a possibilidade de
incluir o Design Inteligente no currículo escolar. Seu texto é um estupendo exemplo de
ironia e sarcasmo (faço aqui uma tradução livre de um excerto. O original pode
ser encontrado AQUI ):
Eu e muitos outros ao redor
do mundo aceitamos fortemente que o universo foi criado por um Monstro Espaguete
Voador. Foi Ele quem criou tudo o que vemos e o que sentimos. Sentimos
fortemente que as extraordinárias evidências científicas que defendem a
existência de processos evolutivos não são mais do que coincidências, colocadas
lá por Ele.
É por essa razão que estou
lhes escrevendo hoje, para formalmente requisitar que essa teoria alternativa
seja ensinada em suas escolas, juntamente com as outras duas teorias. De fato,
eu iria longe o suficiente para processá-los caso vocês não concordem com isso.
Estou certo que vocês estão percebendo para onde vamos. Se a teoria do Design
Inteligente não é baseada na fé, mas é apenas outra teoria científica, como ela
clama, então vocês devem permitir que nossa teoria seja ensinada, uma vez que
ela também se baseia na ciência, e não na fé.
Alguns acham difícil
acreditar por isso talvez seja útil contar-lhes um pouco sobre nossas crenças.
Nós temos evidências que um Monstro Espaguete Voador criou o universo. Nenhum
de nós, é claro, estava lá para ver, mas temos escritos que contam a respeito.
Temos inúmeros volumes grossos explicando todos os detalhes do Seu poder (...)
O Design Inteligente é tão científico quanto o Monstro Espaguete
Voador e não pode ser ensinado em aulas de ciências, de nenhum nível, seja
fundamental, médio ou superior. Design Inteligente é uma tática desonesta que
tem por objetivo tornar obrigatório aos estudantes entrarem em contato com uma
visão de mundo criacionista compartilhada por um grupo em detrimento a milhares
de outras igualmente absurdas do ponto de vista científico.
Incluir o Design Inteligente nos currículos escolares é um crime
contra o Estado laico, contra a ciência e até contra a liberdade religiosa. Se o sujeito é hindu, ou
xintoísta, ou pastafariano, por que tem que estudar o mito de criação de outra
religião e não da sua?). No Brasil, ainda
(escrevo isso em janeiro de 2019, pouco após a posse do novo presidente do
Brasil), tal medida seria frontalmente inconstitucional[iii].
As aulas de ciências são espaços próprios para se discutir a necessidade
de evidências que suportem nossas afirmações. Crianças e adolescentes devem ser
incitados a não acreditarem em proposições quando não existem fundamentos para
supô-las verdadeiras: sem ceticismo não há alfabetização científica. Ao tentar
impor aos jovens em formação a ideia de que um projetista foi responsável por
tudo o que existe no universo, advogamos abertamente a favor da irracionalidade
e do obscurantismo. Influenciar a educação
científica dos estudantes, por força de lei e de interesses sub-reptícios de
congregações religiosas e agendas políticas, é impedir que uma geração inteira
acorde do pesadelo do subdesenvolvimento e da submissão intelectual.
Dum spiro spero[iv]. Mesmo na atual realidade distópica em que vivemos, repleta de ignorância, retrocessos e crenças cegas que se sobrepõem às evidências e ao livre pensar, uma aurora menos cinzenta é possível. Para tal, devemos combater a crescente barbárie que assola a civilização contemporânea com as armas da razão, do pensamento científico e do humanismo. Incansavelmente.
Notas
[i] Essa
hipótese pseudocientífica descreve a crença de que criaturas extraterrestres
visitaram a Terra há milhares de anos, e que interagiram de alguma forma com
civilizações humanas; em algumas das suas vertentes, “teóricos” dos alienígenas
do passado chegam mesmo a dizer que foi os ETs interviram na evolução da vida
no nosso planeta através de experimentos genéticos.
[ii] No
dia 14 de dezembro de 2015, a conceituada revista PLoS One (acrônimo para
Public Library of Science One) aceitou para publicação o artigo “Biomechanical
Characteristics of Hand Coordination in Grasping Activities of Daily Living” –
em tradução livre “Características Biomecânicas da coordenação da mão em
atividades de agarramento na vida diária” – de autoria de Ming-Jin Liu, Cai-Hua
Xiong, Le Xiong e Xiao-Lin Huang. Em linhas gerais, o trabalho tinha entre suas
conclusões a ideia de que a habilidade manual humana extraordinária revela
(pasmem!) o design divino. Se somos tão hábeis em agarrar objetos, clicar em
sites maliciosos e digitar infindáveis mensagens no Whatsapp, o artigo da PLoS
One sugere fortemente que isso tudo é obra de Deus. Para os autores: “(...) A
ligação funcional explícita indica que a característica biomecânica da
arquitetura conectiva tendínea entre músculos e articulações é o design
adequado feito pelo Criador para realizar uma infinidade de tarefas diárias de
uma maneira confortável”. Dado o burburinho da comunidade científica, o artigo
de Liu e seus colaboradores foi retratado pelo periódico, que se desculpou e
prometeu apurar em que passo (ou passos) do processo de revisão houve
equívocos.
[iii] Em
03 de janeiro de 2019, foi aprovada no Brasil a lei 13.796, que altera a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e assegura, aos alunos regularmente
matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, o direito de
ausentar-se de provas ou aulas marcadas para os dias em que for vedado o
exercício de tais atividades segundo os preceitos de sua religião; essa nova
lei entra em conflito com o princípio de um Estado laico, garantido pela
Constituição Federal brasileira promulgada em 1988.
[iv]
Enquanto respiro, tenho esperança.